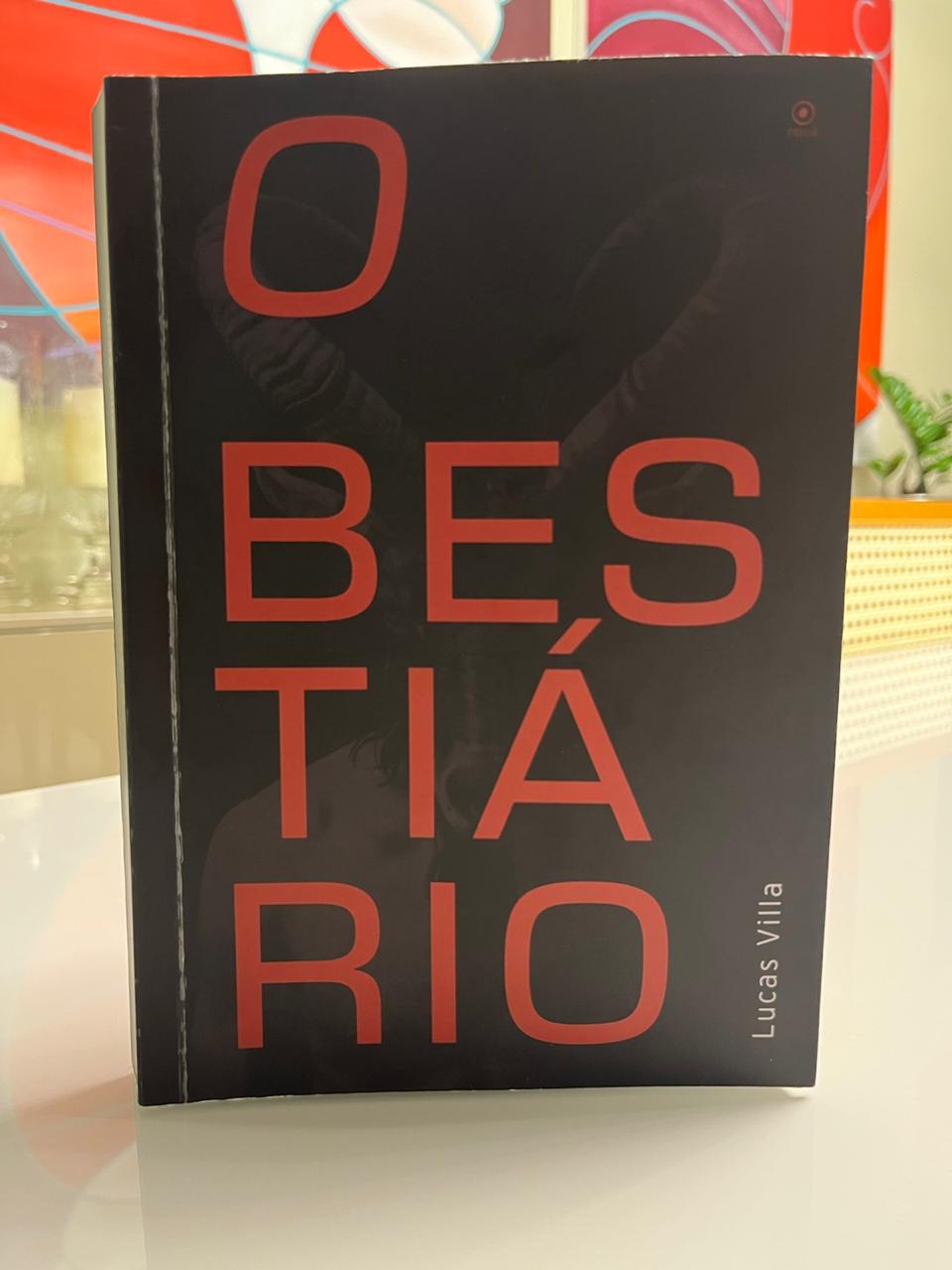
29 de Janeiro de 2026 às 12:26
No ensaio A morte do autor (1967), Roland Barthes sustenta, em síntese, uma ruptura radical com a centralidade do autor como origem do sentido da obra. Entre seus argumentos, destaca-se a ideia de que o significado do texto se atualiza no ato da leitura. Cada leitura constitui uma produção de sentido, e não a recuperação de uma intenção original. Assim, o leitor passa a ocupar o lugar que antes pertencia ao autor como instância de unificação do texto.
Inicio meus comentários sobre a obra Bestiário, do advogado, filósofo, músico e professor Lucas Villa, com a citação de Roland Barthes para aqui confessar um “assassinato”. Sim, matei o autor — não no sentido literal, evidentemente, mas como gesto teórico e crítico. Fiz isso porque, assim como Barthes, acredito que essa morte simbólica é condição indispensável para o nascimento do leitor. Matei o autor para libertar o texto da tirania da origem, ideia que se tornará mais clara no transcorrer desta confissão.
Não se trata aqui de uma crítica literária em sentido estrito, mas de um reflexo meu projetado pelo livro e, justamente por isso, de uma análise datada. Digo isso porque, certamente, diante de uma nova leitura, outras projeções surgirão, novas ideias se imporão, enquanto algumas sucumbirão por não mais encontrarem amparo em minhas memórias.
Valendo-se da tradição ancestral do bestiário — gênero de origem medieval que atribuía aos animais funções morais e simbólicas —, o autor a reinscreve como instrumento crítico voltado à investigação das patologias éticas e existenciais da contemporaneidade. Não se está diante, portanto, de um mero jogo alegórico, mas de uma escrita que aciona o simbólico como verdadeiro modo de pensamento.
A obra possui um narrador — não um narrador em primeira pessoa, mas um narrador enquanto voz, em terceira pessoa. Confesso que me interesso em analisar, ainda que de forma não técnica, a personalidade desse narrador, que acaba por ser uma personalidade construída pelo próprio discurso. Penso, por exemplo, no narrador irônico e interventivo de Machado de Assis em Quincas Borba, ou no narrador frio, impessoal e altamente expressivo de Kafka. Cultivo esse hábito por acreditar que tal análise permite distinguir um romance de um simples relato, ou identificar um romancista em contraste com um mero contador de histórias.
Em O Bestiário, a participação desse narrador-voz é, em si, a de um personagem à parte. Trata-se de um “ser” jovem, preocupado em ser compreendido — ansioso —, culto, que deixa escapar, por vezes, um linguajar hermético, com o uso de termos como melíflua, ofídico, entre outros pouco frequentes no cotidiano. Ainda assim, essas palavras circulam pelo texto sem ofender o leitor, pois, na maior parte da obra, o narrador se expressa de forma limpa, direta e acessível. O humor também se faz presente na voz narrativa, como na passagem da falsificação da moeda por Diógenes, que chama atenção para o cuidado com a semântica — estudo vital para o exercício do pesquisador.
A narrativa se passa em Teresina. A escolha do local me fez supor uma intenção do autor de ser lido, inicialmente, pelo público da terra, o que, por si só, é legítimo — ainda mais se considerarmos que são poucos, hoje, os nossos romancistas.
É nesse ponto que o Minotauro e o Cabeça-de-Cuia se encontram. O narrador, com acerto, apresenta o Cabeça-de-Cuia como uma espécie de Minotauro piauiense. Trata-se menos de uma equivalência literal ou histórica e mais de uma aproximação simbólica, de natureza mitopoética. A analogia se sustenta no caráter híbrido e monstruoso dessas figuras. Assim como o Minotauro nasce da fusão entre o humano e o animal, o Cabeça-de-Cuia surge como um humano deformado, marcado pela monstruosidade física e pela ruptura da ordem natural. Em ambos os casos, o monstro encarna a passagem do humano para uma condição liminar, situada entre o familiar e o ameaçador. A coincidência, portanto, vai muito além da mera deformação da cabeça, alcançando o plano simbólico da transgressão, da marginalidade e da ruptura da ordem humana.
Além disso, esses mitos compartilham uma função pedagógica semelhante. Ambos operam como narrativas de advertência, que expõem as consequências da violência, da desobediência e da ruptura dos vínculos familiares e sociais. O monstro, nesse sentido, não se limita a representar uma ameaça externa, mas materializa o fracasso humano em preservar a ordem ética e simbólica que sustenta a vida coletiva. É justamente essa dimensão que estabelece uma forte proximidade com O Bestiário.
Desse modo, denominar o Cabeça-de-Cuia de “Minotauro piauiense” configura uma metáfora interpretativa legítima, desde que se reconheça tratar-se de tradições míticas distintas. Enquanto o mito grego se organiza em torno da tragédia e do destino, o mito sertanejo se estrutura a partir da moral, da culpa e da possibilidade de redenção. Em contextos culturais diversos, ambos funcionam como espelhos dos medos coletivos e das tensões que atravessam a experiência humana. Aqui rompo a quarta parede para parabenizar o autor: uma escolha conceitual precisa e feliz, Lucas Villa.
Fruto da escolha o espaço narrativo escolhido pelo autor (Teresina), cabe aqui a uma paráfrase consagrada, criada e difundida pela crítica literária como formulação interpretativa do pensamento de Tolstói: “Fale de sua aldeia e estará falando do mundo”.
*
Desde a primeira página, destaca-se o ritmo de escrita impresso pelo autor, algo que remete ao universo cinematográfico ou ao de uma série televisiva. Diante disso, questiono se, por tal característica, deveríamos catalogar O Bestiário como um romance de entretenimento. A escolha da prateleira para O Bestiário não é simples.
Alinhado aos romances de entretenimento, O Bestiário apresenta uma narrativa ficcional contínua, com mistério, personagens, reviravoltas, capítulos curtos, ritmo acessível e elementos de suspense. Esses recursos são característicos desse tipo de romance, no sentido de tornar a leitura fluida e atrativa, inclusive para leitores jovens ou não especializados.
Entretanto, não se pode deixar de destacar a presença de verdadeiras aulas de filosofia, história, mitologia e antiguidade, que apresentam conceitos, problemas e autores de modo organizado e articulado à trama. Nesse ponto, a obra se afasta do romance de entretenimento “puro” e se aproxima da tradição do romance pedagógico. Lucas Villa atirou no que viu e acertou no que imaginou.
A linguagem cinematográfica ganha contornos explícitos quando o autor — ou diretor — parece reger a cena:
“Naquele abafado início de noite, enquanto a vigorosa interpretação de Ashkenazy derramava-se pelo ar, Adeodato ouvia a melodia como quem ouve um lamento próprio. O Lá bemol repetido, os acordes sombrios, a harmonia suspensa… tudo lhe parecia muito mais que música: era memória, aviso, profecia. E quando o som das batidas na porta retornou, mais insistente, opaco, lenhoso, Adeodato não pensou no irmão; pensou em Chopin. Por um instante, parecia-lhe que as pancadas vinham do lado de dentro. Do porão? Do peito? Da própria madeira da vitrola? Não importava. Era Chopin. Chopin batia, desesperado, no interior do caixão. Chopin sufocava, tentando sair. Só por isso desligou a vitrola e subiu as escadas que o separavam da superfície. Precisava libertar Chopin.”
O cinema também é lembrado pelo autor no título do capítulo 15, O discreto charme da burguesia, referência direta ao filme homônimo (Le Charme discret de la bourgeoisie, 1972), do diretor surrealista espanhol Luis Buñuel (1900–1983). No filme, o enredo é deliberadamente simples — e constantemente frustrado: um pequeno grupo de burgueses tenta jantar junto, mas o encontro é sempre interrompido por situações absurdas, sonhos, equívocos de horário, aparições militares e mortes inesperadas. O jantar jamais se concretiza.
O Bestiário também possui uma trilha sonora. Além da passagem transcrita, a presença musical permeia toda a obra. Diversos trechos são embalados por músicas que vão de Mozart a Ney Matogrosso passando por: Chopin, Wagner, The Doors, Anathema, Vivaldi, Nancy Sinatra, Titãs, Stravinski, Pink Floyd, Emperor, Debussy, Diamanda Galás, Marilyn Manson, Moonspell entre outros. Fica aqui a sugestão ao autor de criar uma trilha sonora — uma playlist no Spotify — com as músicas citadas, ampliando, assim, a imersão do leitor.
Essa imersão guiada pela música se torna ainda mais sensorial. Digo isso a partir da minha experiência no capítulo de abertura, em que o leitor é conduzido aos detalhes do trabalho do protagonista Adeodato. No início, percebemos de longe o animal a ser empalhado; ao final, sem nos darmos conta, estamos pintando os detalhes do bico. A escrita opera como uma lente de aumento.
Não pretendo comentar o enredo nem explicar passagens, para que o efeito de surpresa não se perca para futuros leitores. Ainda assim, não posso deixar de mencionar como o autor brinca com o tempo no desenvolvimento da narrativa. Ao iniciar o segundo capítulo, por exemplo, o leitor supõe que o caso segue uma linha temporal contínua — a continuidade da apresentação do protagonista empalhando animais. A própria leitura permite essa suposição, pois nada indica o contrário. No entanto, apenas na reta final o autor esclarece: “Assim é que chegou à taxidermia, arte de empalhar defuntos, de eternizar a morte ou, sendo ela já eterna, de reconhecer-lhe esse status”.
Sinto-me confortável para destacar outros trechos, sem, contudo, explicitar seus contextos, em respeito aos futuros leitores. O debate sobre o direito como ciência — capítulo 9, Cartomancia política das vaidades — extrapola o enredo e poderia facilmente ser transportado para a sala de aula dos cursos de bacharelado em Direito, sobretudo em disciplinas como Introdução ao Direito. Aqui, não é o autor quem fala, tampouco o narrador — que, como já mencionado, se desprende do autor —, mas dois personagens que refletem sobre os objetivos da ciência. Essa reflexão desencadeia uma reviravolta na vida do protagonista, que, por meio de um simples bilhete, põe fim ao vínculo de trabalho como professor: “não creio mais no objeto desta ciência”. Note-se que a ciência a que ele se refere não é, sequer, o Direito. O tema retorna no capítulo 28, Esponja maldita.
No capítulo 32, o autor recorre à metalinguagem para compartilhar o próprio pensamento diante de uma possível análise crítica de sua obra: “Compartilhou o pensamento com Adeodato. Como seria a reação do público, se o bestiário fosse aberto a visitas, tornado em exposição? O que diriam os críticos de arte sobre o labirinto, as feras míticas, os quadros de animais fantásticos, as bestas mitológicas com partes de corpos humanos, criadas como um mosaico de defuntos? Já podia imaginar o blábláblá dos especialistas, protestando contra uma lista de exageros: excesso de morbidez, excesso de referências, excesso de formas, excesso de linguagem, excesso de sensações, excesso de erotismo, excesso de erudição, excesso de musicalidade, excesso de grotesco, excesso de camada, excesso de poesia, excesso de sincretismo, excesso filosófico, excesso de vertigem”.
Na sequência, o recado é dado de forma direta e provocativa: “Fodam-se os críticos”. É nesse gesto que o autor se alinha conscientemente a uma estética da desmedida, assumindo o excesso não como falha, mas como princípio estético e afirmativo.
A arte de empalhar é percebida pelo “casal” Adeodato e Ariadne — relação atravessada por uma tensão de desejo particularmente sugestiva — como uma tentativa de eternizar as coisas, de suspender o efêmero. Essa leitura se evidencia nos trechos: “Foi ali, entre as línguas mortas e os mitos vivos, que Adeodato reconheceu seu novo projeto. Até então, preservava a morte em bichos que haviam existido. Agora, queria dar vida a bichos que jamais existiram. Talvez nem só na morte haja permanência” e “Restou apenas o essencial: o corpo, a memória e um silêncio mineral”.
Vejo aqui semelhanças com as Confissões de Santo Agostinho — Livro XI —: “De fato, se os acontecimentos futuros e passados existem, quero saber onde estão. Mesmo que não consiga, sei, contudo, que, onde quer que estejam, ali não são futuros ou passados, mas presentes. Com efeito, se mesmo ali fossem futuros, ainda não seriam, e, se fossem passados, já não seriam. Onde quer que estejam, portanto, o que quer que sejam, não são senão presentes. Muito embora, quando narramos coisas verdadeiras do passado, são extraídas da memória não as próprias coisas que passaram, mas palavras concebidas a partir das imagens que elas imprimiram na mente, como pegadas, pelos sentidos. Assim, minha infância que não é mais está num tempo passado que não é mais; mas a imagem dela, quando a lembro e narro, vejo-a interiormente no tempo presente, porque ainda está em minha memória”.
*
O Bestiário examina o humano a partir de suas zonas obscuras, valendo-se da figura animal como espelho crítico para expor aquilo que há de mais inquietante, ambíguo e não pacificado na experiência contemporânea.
Lucas Villa tem fôlego e veia de romancista: a poesia perde um escritor, enquanto o romance ganha mais um filho. Torço pelo renascimento do autor, para que possa nos presentear com outro romance; confesso, porém, mais uma vez, que não terei dó nem piedade em tornar a matá-lo.
← Voltar